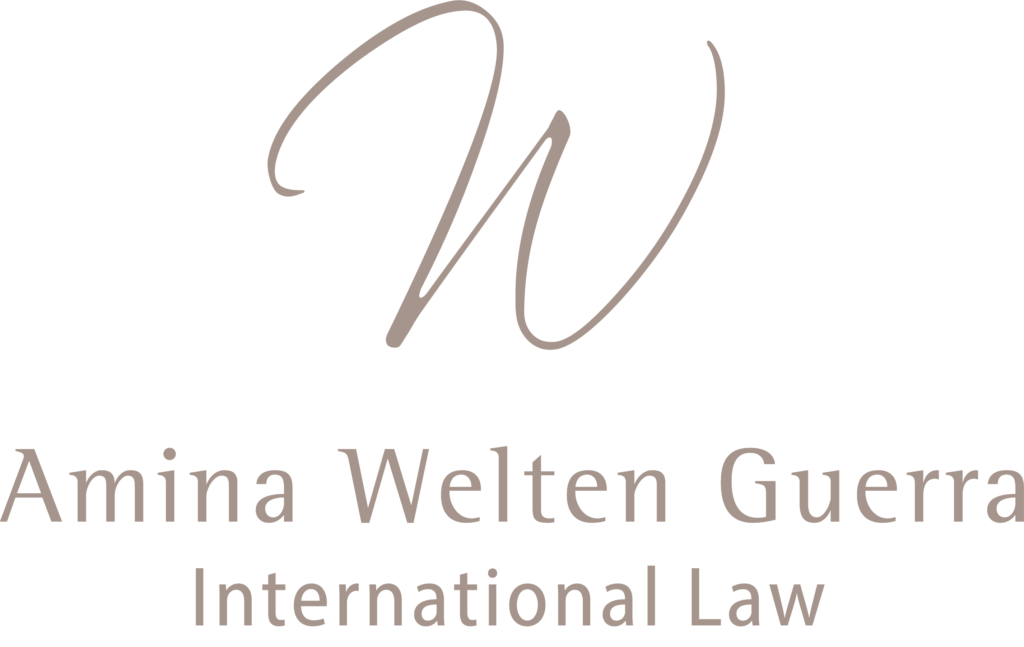A responsabilidade internacional dos Estados, seu conceito e seus elementos
A responsabilidade de um Estado consiste em um instrumento que poderá ser utilizado quando um Estado viola o Direito Internacional, quando há um fato ilícito internacional.
Para entender isso, é necessário compreender quando teremos um fato ilícito, isto é, quais são os elementos constitutivos do fato ilícito e, posteriormente, quais são as consequências deste fato ilícito.
O tema da responsabilidade do Estado já foi tratado por inúmeros doutrinadores e teve sua codificação por parte da Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2001 (projeto de artigos sobre a responsabilidade dos Estados por atos ilícitos internacionais).
Sendo que o tratamento dos estrangeiros é precedente importante da responsabilidade do Estado.
O primeiro elemento, o elemento subjetivo do fato ilícito, irá consistir no comportamento de um ou mais órgãos estatais. Assim, é importante que se atribua aquele determinado comportamento ao Estado e que tal comportamento consista na violação de uma obrigação do Estado.
Importante ressaltar, que é necessário o exaurimento dos mecanismos internos de defesa, para que se possa utilizar o instrumento da responsabilidade internacional atribuída aos Estados.
Como exemplo deste elemento, pode ser citado o caso de 1979, dos estudantes islâmicos que detiveram diplomatas, 52 estadunidenses, como reféns por 444 dias, quando tomaram a embaixada americana em Teerã em apoio à Revolução Iraniana. Várias tratativas foram feitas, até mesmo uma tentativa de operação de resgate que resultou na morte de soldados americanos. A situação se encerrou com a assinatura de um acordo (o filme “Argo” de 2012, foi ambientado neste contexto histórico, sendo interessante interpretação do acontecimento).
Dessa forma, verifica-se que neste caso o momento de concretização do fato ilícito internacional, seu elemento subjetivo e a responsabilidade do Estado, foi não ter adotado todas as medidas necessárias a prevenir a ação danosa, pois até então entendia-se tal situação como uma ação danosa de privados em relação a estrangeiros. Tal responsabilidade muda a partir do momento que Teerã toma para si a ação dos estudantes. Em 1979 os Estados Unidos iniciam contra o Irã um processo perante a Corte Internacional de Justiça, alegando violações do direito internacional consuetudinário e de vários tratados, como a Convenção de Viena de 1961 e 1963 sobre relações consulares e diplomáticas, Tratado de Amizade, Relações Econômicas e Direitos Consulares entre Estados Unidos e Irã. Sendo que o Irã chega a ser condenado.
A Corte vai dizer que “embora a invasão não possa ser atribuída ao Estado do Irã, o Estado estava sob a obrigação de tomar medidas apropriadas para proteger a embaixada. E não fez nada para prevenir ou parar o ataque”. Ainda, em relação à Convenção de 1963 o Estado tinha obrigação de “tomar todas as medidas apropriadas para proteger as premissas consulares contra a intrusão ou o dano e prevenir qualquer distúrbio à paz do posto consular ou violação à sua dignidade”.
Já o segundo elemento, o elemento objetivo, consiste na antijuridicidade do comportamento, ou seja, na violação da norma internacional.
Lembrando que o momento da violação é importante para a interpretação dos tratados de arbitragem e de regulamento judiciário que vão excluir a aplicação de suas regras. Exemplo, não serão aplicados estes tratados e regulamento a fatos cometidos antes de sua entrada em vigor.
O ilícito pode ocorrer no momento do cometimento do fato no caso dos ilícitos instantâneos, e também poderá ter caráter contínuo. Poderão ainda ser compostos, se no instante em que ocorrer o cometimento do ilícito, este cobrir todo o momento em que se verificam as ações e omissões que compõem o ilícito.
São situações que excluem o ilícito: 1. O consenso do outro Estado (exemplo, o Estado autoriza a captura de um criminoso por parte das forças de um outro Estado) com o limite das normas de ius cogens e os chamados crimes internacionais; 2. A autotutela, as ações diretas que reprimem um ilícito (poderia-se pensar no exemplo das ações de autotutela que a Europa poderia tomar no caso da Bielorússia e dos migrantes); 3. A força maior; 4. O estado de necessidade, esta situação de difícil configurabilidade, mas que poderia ser observada no caso de um navio estrangeiro que se refugia em porto estrangeiro sem autorização para fugir de uma tempestade. De qualquer forma, busca-se restringir às hipóteses de utilização do argumento do estado de necessidade formulando-o de forma negativa, no sentido que tal argumento possa ser utilizado apenas como o ato que constitui o único meio para proteger um interesse essencial contra um perigo grave e iminente e que não prejudique gravemente um interesse essencial do Estado ou dos Estados em relação aos quais esta obrigação existe ou da comunidade internacional (poderia-se pensar no exemplo do Estado de necessidade em não abrir as fronteiras aos migrantes durante a pandemia da Covid-19).
Além destes dois elementos do fato ilícito internacional, é necessário ainda analisar a culpa e o dano como elementos controversos desta equação que resulta na responsabilidade internacional dos Estados.
A princípio poder-se-ia falar da responsabilidade por culpa, em contraposição à responsabilidade por dolo já conhecida no direito privado. Sendo que a responsabilidade objetiva relativa consiste naquela responsabilidade contratual da qual só é possível se livrar quando demonstrada a existência de uma justificativa consistente em um evento externo que tornaria impossível a realização da obrigação. Já a responsabilidade objetiva absoluta, surge automaticamente e não contempla nenhuma possibilidade de justificativa.
Dessa forma, nas origens do Direito Internacional, com Grotius, a responsabilidade da qual se falava era a responsabilidade por culpa, era necessário demonstrar a negligência ou a intencionalidade do órgão estatal.
Com Anzilotti, no início do século XX, revolucionou-se a figura da responsabilidade internacional do Estado, entendendo-a como objetiva relativa. E a partir daí existem variações doutrinárias profundas quanto a qualidade desta responsabilidade.
Como exemplo, pode ser citado Conforti, que entende que a violação do dever de proteção dos estrangeiros ou dos órgãos estrangeiros enseja a responsabilidade por culpa. Já a responsabilidade por danos causados por objetos espaciais seria absoluta, porquanto existe uma Convenção Sobre a Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais de 1972, que assim dispõe.
Portanto, para todos os demais casos em que não conste uma disciplina específica, a disciplina residual é aquela da responsabilidade objetiva relativa.
Agora, quanto ao dano, não é necessária a sua existência para a configuração da responsabilidade, no sentido que a inobservância da norma por parte de um dos atores pode por si ser sentida como ilícito internacional.
Pode ser citado como exemplo, o caso em que um Estado invada o território de outro, o espaço aéreo, o espaço terrestre ou marinho. Assim, fica a dúvida de que o Estado ofendido pela violação da norma, por não ter sofrido um dano material, não poderia invocar a responsabilidade do Estado violador por um comportamento ilícito? Ou ainda o caso de um tratado em tema de desarmamento que preveja a destruição de armas químicas ou nucleares ou que ponha limite a esta produção, será que seria ou não necessário o dano para compor o elemento constitutivo do ilícito? Obviamente que não.
Já em relação ao tratamento dos estrangeiros, dos órgãos estrangeiros ou das sedes diplomáticas a comprovação do dano pode ser requisito para o surgimento da obrigação em si e isso não contraria o entendimento que foi construído anteriormente sobre o fato ilícito internacional.
Obrigações erga omnes, quem pode reivindicar a responsabilidade dos Estados e o jus cogens
Pode-se estender este entendimento da responsabilidade dos Estados, em especial, em relação às obrigações erga omnes. E ir além no sentido de que se tais obrigações se referem à proteção de interesses indivisíveis, não apenas o Estado ofendido teria direito a reivindicar a responsabilidade do Estado.
Como exemplo pode ser citado o caso relacionado a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, em que o Gâmbia buscou a jurisdição da Corte Internacional de Justiça (CIJ) para denunciar violações à Convenção, apesar de não ser afetada pelas violações inferidas. As alegações dizem respeito a ações perpetradas pelo Tatmadaw, as forças armadas de Myanmar, contra muçulma- nos da etnia Rohingya, por volta de 2017.
Apesar de ser um Estado sem relação direta com as violações disputadas, Gambia baseou sua legitimidade para instituir o procedimento no Artigo IX da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, que diz respeito à interpretação, aplicação e execução das disposições da Convenção. A Gambia argumentou que qualquer Estado membro da Convenção teria interesse legal e legitimidade para buscar a responsabilização de um Estado infrator de suas obrigações perante a CIJ, em virtude do carácter erga omnes partes da Convenção.
Em contraste, com base no Artigo 34, parágrafo 1o do Estatuto da CIJ, Myanmar alegou que a Corte não teria jurisdição, uma vez que Gambia não teria interesse jurídico próprio na disputa e estaria agindo “por procuração” e “em nome” da Organização de Cooperação Islâmica.
Dessa forma, a dúvida que surge com este caso é sobre a relação destas obrigações erga omnes com as normas de ius cogens.
O ius cogens é um conjunto de normas internacionais, sem rol específico, mas que teve sua existência consagrada pelo artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, na qual, em seus trabalhos preparatórios, deixou à mercê dos Estados e dos tribunais internacionais a definição do seu conteúdo jurídico material. Vem com o escopo de limitar a soberania do Estado.
Estas normas não possuem um critério de referência, a doutrina comumente fala do princípio que proíbe o uso da força nas relações internacionais e do respeito a determinados direitos humanos, como por exemplo a proibição da tortura, da discriminação racial, da proibição da escravidão e etc.
Alguns autores vão considerar as normas de ius cogens na referência que o artigo 103 da Carta das Nações Unidas faz em relação aos princípios da Carta das Nações Unidas, que são o código de ética da sociedade internacional. Assim, ainda que os Estados já tenham ido contra estes princípios, nenhum Estado se opôs frontalmente a eles (artigo 2, ponto 4).
Como exemplo de jus cogens pode ser comentada a norma injuria jus non oritur (lei não surge da injustiça), que é um princípio do direito internacional. A frase implica que os atos injustos não poderiam criar leis. E seu princípio rival é ex factis jus oritur, no qual a existência de fatos cria a lei.
Hoje, em opinião majoritária, entende-se que o princípio da não devolução faz parte desse corpus juris gentium, ou seja, do direito internacional consuetudinário, o que quer dizer que independe de uma aceitação formal dos Estados.
Como suporte deste entendimento, o professor Thiago Oliveira Moreira (2017) traz à discussão alguns documentos, como a Conclusão 79 adotada pelo Comitê Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a qual afirma que “o princípio de não repulsão não está sujeito a derrogação”. O comitê, conforme diz o Professor, é composto pelos Estados mais afetados pelo afluxo de refugiados e concluiu por unanimidade a respeito dessa impossibilidade de derrogação. Uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas também pediu aos Estados, que se respeitassem o non-refoulement universalmente como reforço do caráter imperativo e universal do princípio.
No Tribunal Europeu de Direitos Humanos existem dezenas de casos sobre a aplicação do princípio do non-refoulement.
No caso Addolkhani e Karimnia Vs. Turquia, no 30471/08, 2 iranianos que fizeram parte da Organização dos Mujahidins buscaram refúgio por receio de perseguição por não concordarem mais com os objetos e métodos da Organização. Eles foram para o campo de refugiados de Ashraf no Iraque onde o ACNUR os reconhece como refugiados. Então, eles entraram na Turquia e foram rechaçados mais de uma vez. O tribunal rejeitou o argumento de ameaça dos requerentes à segurança nacional reiterando a natureza do artigo 3o da CEDH.
Outro caso emblemático é o da Itália, que em 2009 interceptou um barco com 24 cidadãos da Eritreia e da Somália e os conduziu à Líbia. Assim, também sofre condenação no Tribunal por violação do artigo 3o da CEDH (somado a violação do artigo 4o do Protocolo IV da Convenção Europeia pela Proibição de Deportação Coletiva de Estrangeiros) pelo risco de maus-tratos que esses indivíduos corriam na Líbia bem como pela repatriação para seus países de origem.
Foi a primeira vez que o Tribunal reconheceu que a interceptação de navios em mar aberto poderia caracterizar violação ao princípio da não repulsão, com o reconhecimento de uma aplicação extraterritorial à norma.
No âmbito do sistema interamericano também temos visto a atuação da Corte e da Comissão no sentido de zelar pelos direitos dos refugiados. O non-refoulement está previsto pela Convenção Americana de Direitos Humanos em seu artigo 22.
Já o caso mais tradicional que existe neste sentido é o caso Pacheco Tineo Vs. Bolívia. No qual, tratou-se de uma família peruana que por sofrer perseguição política saiu do seu país e foi para a Bolívia, na primeira vez em 1996 e depois em 2001. Quando são deportados para o Peru em violação do princípio do non-refoulement. O caso chega à Comissão Interamericana, que constata as violações cometidas pela Bolívia e faz referência tanto ao artigo 33 da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados quanto o artigo 13 da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.
O status consuetudinário do non-refoulement também é reconhecido em parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça, como o 25/18 onde o órgão afirma que este princípio ele se expande para além do direito dos refugiados por ser a partir dele que inúmeros outros direitos humanos serão garantidos. Uma proteção garantida a todo estrangeiro e não apenas aos refugiados. Contudo, fora o caso Pacheco Tineo não existem outros que tratam sobre refúgio.
No caso M.S.S. Vs. Bélgica e Grécia, a Bélgica é acusada de violação do artigo 3o da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), por cumprir o regulamento de Dublin, sendo que há exigência de que o primeiro país a receber o requerente deve processar o seu pedido de refúgio, no caso, a Grécia.
Quanto ao entendimento de tal princípio como uma norma de jus cogens cabe discorrer ainda um pouco mais sobre o tema.
A tutela da dignidade humana é uma norma de jus cogens e como tal deve limitar a atuação dos Estados ao realizar represálias em especial quanto às suas obrigações em relação aos estrangeiros.
Uma coisa será o ressarcimento do Estado em virtude de uma relação jurídica entre Estados (ainda que se trate de uma relação entre Estados em tema de tratamento de indivíduos). Outra, são as constatações de violação de tratados que prevejam que o Estado contratante tenha a obrigação de ressarcir diretamente os indivíduos, como é o caso da CEDH, em seu artigo 41.
As consequências do ilícito e a resultante obrigação de reparar
O fato ilícito e seus elementos, dão origem a uma nova relação jurídica entre os Estados (o que violou a norma e o que sofreu a violação) enquadrada em uma norma secundária.
A norma primária será a norma violada e a norma secundária será a consistente nesta nova relação jurídica que ensejará a reparação. Reparação que deverá consistir no retorno ao status quo ante, e no ressarcimento do dano.
Para Kelsen, a única forma possível era a da represália e da guerra como recurso imediato de autotutela. A reparação seria apenas eventual e dependeria da vontade do Estado ofendido e do estado ofensor em evitar o uso da coerção.
A autotutela como forma normal de reação a um ilícito é a regra no âmbito do direito internacional. A autotutela desde os casos analisados pela CIJ como o das atividades militares e paramilitares contra e na Nicarágua em 1986 e nos anos 2000 entre Irã e Estados Unidos no caso das plataformas petrolíferas, não pode consistir em ameaças ou no uso da força, pois proibidas pelo artigo 2o parágrafo 4o da Carta das Nações Unidas.
Não existe um órgão jurisdicional especializado no julgamento de violações do direito internacional dos refugiados ou dos migrantes de um modo geral, a exemplo do que existe para a violação do Estatuto de Roma (Tribunal Penal Internacional), ou violação ao direito do mar (Tribunal Internacional do Direito do Mar), ou na questão do comércio internacional (Organização Mundial do Comércio – OMC) que possuem seus sistemas de resolução de controvérsias. Porém, por ser o direito dos refugiados um ramo dos direitos humanos, podemos considerar que os tribunais de direitos humanos são competentes para analisar determinadas situações que envolvam esta categoria de indivíduos.
Agora, os diplomatas, categoria especial de migrantes submetidos a um regime jurídico diferente do regime comum aplicável aqueles que detêm a mesma nacionalidade e ingressam no mesmo Estado, tem fontes de direito diferentes, como a Convenção de Viena Sobre Relações Consulares de 1963, a Convenção de Viena Sobre Relações Diplomáticas de 1961, na qual há um regime especial de proteção para estas pessoas.
A existência de sedes diplomáticas de um Estado em outro parte da necessidade de proteger, no Estado receptor, os interesses do Estado que envia e de seus nacionais, pessoas físicas ou jurídicas. Como exemplo de precedente neste sentido, pode ser citada a pronúncia da CIJ sobre o direito individual do migrante de ser informado sobre o direito de ter a assistência consular do seu Estado de origem. Vários casos neste sentido, como o caso LaGrand de 2001.
Expulsão, sem motivo legal, de estrangeiros e a responsabilidade do Estado
O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado em 1966, além de obrigar os Estados-partes a respeitarem os direitos fundamentais de qualquer indivíduo, prevê em seu artigo 13, especificamente, a obrigação do Estado de não expulsar um estrangeiro sem embasamento legal, a menos que motivos imperativos de segurança nacional o justifiquem (Nações Unidas)
Explica o documento, que um estrangeiro que se encontre legalmente no território de um Estado-parte do Pacto só poderá dele ser expulso em decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei e, a menos que razões imperativas de segurança nacional a isso se oponham, terá a possibilidade de expor as razões que militem contra a sua expulsão e de ter seu caso reexaminado pelas autoridades competentes, ou por uma ou várias pessoas especialmente designadas pelas referidas autoridades, e de fazer- se representar com este objetivo.
Esse dispositivo foi invocado, entre outros, no caso Ahmadou Sadio Diallo, que opôs a República de Guiné à República Democrática do Congo (RDC) perante a CIJ. Em sentença proferida em 2010, a CIJ condenou a República Democrática do Congo por entender que o decreto de expulsão do Senhor Diallo, não respeitou a legislação nacional ao não consultar a Comissão Nacional de Imigração sobre sua situação e ao não motivar de forma satisfatória o ato de expulsão, de modo que violou a obrigação internacional do respeito ao princípio de legalidade posto no artigo 13 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, e no artigo 12, parágrafo 4o da Carta Africana (§§ 72 e 74).
A Corte julgou que a prisão e detenção de Ahmadou Sadio Diallo foram arbitrárias e contrárias aos artigos 9, §§ 1o e 2o do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e 6o da Carta Africana, principalmente por não terem obedecido às próprias condições estabelecidas na legislação interna da RDC, que dispunha, por exemplo, sobre a duração limitada e o direito de conhecer os motivos da prisão (§§ 80 e 84). Por fim, a CIJ estabelece que o fato de Diallo não requisitar a assistência consular não exime a RDC da responsabilidade de cumprir sua obrigação de informar a pessoa detida do seu direito, de modo que a RDC transgrediu o artigo 36, parágrafo 1o, b, da Convenção de Viena, de 1963 (§ 95).
FONTES:
MOREIRA, Thiago Oliveira; VALE. P.A.C. Concretização do non-refoulement pelos tribunais internacionais: perspectivas europeia e interamericana. In: MENEZES, W. (org.). Direito Internacional na Contemporaneidade. Natal: Flor do Sal, 2017.
SKORDAS, Achilles. The Missing Link in Migration Governance: An Advisory Opinion by the International Court of Justice. EJIL, 2018. Disponível em: https://www.ejiltalk.org/the-missing-link-in-migration-governance-an-advisory-opinion -by-the-international-court-of-justice/. Acesso em: 31 jan. 2022.
UNICURITIBA. Direito Internacional em Foco: A Crise dos Reféns no Irã. Internacionalize-se, 2016. Disponível em: https://internacionalizese.blogspot.com/2016/04/direito-internacional-em-foco-crise-d os.html. Acesso em: 31 jan. 2022.